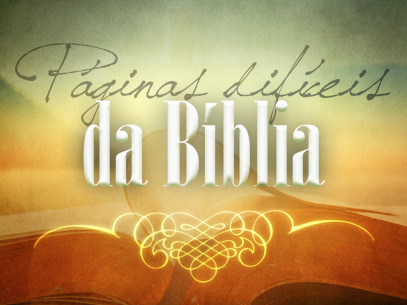Como entender as tradições e supostas contradições das narrativas bíblicas de origem Javista, Eloísta, Deuteronômica e Sacerdotal?
Por *Francisco José Barros
Araújo
Durante muitos séculos, a tradição judaico-cristã sustentou a convicção de que Moisés teria sido o autor direto de todo o Pentateuco, redigindo os cinco primeiros livros da Bíblia “de uma só vez”, sob inspiração divina. Essa compreensão, profundamente enraizada na fé e na catequese, perdurou praticamente inquestionada até o século XVIII. Foi somente em 1753 que Jean Astruc, médico pessoal de Luís XV, rei da França, ao observar atentamente o texto do Gênesis, notou um detalhe intrigante: o nome de Deus aparecia ora como “Iahweh” (YHWH), ora como “Elohim”. Essa alternância o levou a propor uma hipótese ousada para a época — a de que o Pentateuco teria sido composto a partir de narrativas paralelas provenientes de fontes distintas, posteriormente unificadas por redatores. Assim nasceu o embrião da chamada Hipótese Documentária, que se tornaria uma das teorias mais influentes da exegese bíblica moderna. Nos séculos seguintes, a teoria foi sendo reformulada e aprofundada à luz de novas descobertas arqueológicas no Oriente Próximo, especialmente após a recuperação de documentos assírio-babilônicos que revelaram paralelos literários, jurídicos e religiosos com as tradições hebraicas. Essas descobertas permitiram uma compreensão mais ampla da formação do texto bíblico e de seu contexto histórico-cultural.
Atualmente, a maior parte dos biblistas e exegetas reconhece que o Pentateuco resulta da fusão de quatro tradições principais, conhecidas como Javista (J), Eloísta (E), Deuteronomista (D) e Sacerdotal (P). Embora haja divergências quanto à delimitação precisa de cada fonte e à atribuição de determinados versículos, o consenso acadêmico é de que tais tradições refletem diversos momentos teológicos, geográficos e políticos da história de Israel. Durante algum tempo, acreditou-se que as fontes Javista e Sacerdotal se estendiam também ao Livro de Josué, formando o que se chamava de Hexateuco (seis livros, de Gênesis a Josué).
Tal hipótese, porém, perdeu força quando se reconheceu que Josué apresenta um estilo e uma teologia claramente deuteronomistas, especialmente em sua ênfase na fidelidade à Lei e na ação divina mediante a obediência do povo. Ainda assim, há elementos interessantes a serem observados. A travessia do Jordão sob Josué guarda paralelos notáveis com a travessia do Mar Vermelho sob Moisés. Ambos os episódios evidenciam a presença sacerdotal — com os levitas portando a Arca da Aliança — e simbolizam a continuidade da ação salvadora de Deus. É plausível, portanto, que o Deuteronomista tenha conhecido antigas tradições “sacerdotais” sobre o Êxodo, reinterpretando-as sob uma perspectiva teológica posterior. Entre as quatro fontes, destaca-se a Sacerdotal (P), geralmente considerada a mais recente. Ela é situada no período pós-exílico, quando Judá havia se tornado uma província do Império Persa (século V a.C.). Nascida num tempo de reconstrução religiosa e identitária, a tradição sacerdotal procurou mostrar que, mesmo diante da ruína nacional e do exílio, Deus permanecia fiel e presente em meio ao seu povo. A redação sacerdotal caracteriza-se por um estilo ordenado e meticuloso, preocupado com genealogias, itinerários, leis rituais e cronologias precisas. Em sua teologia, destaca-se o papel central de Arão e do sacerdócio levítico, a sacralidade dos cultos e o rigor das prescrições cerimoniais. A fonte P também se distingue pelo uso do título divino El Shaddai antes da revelação do nome YHWH a Moisés, e pela ausência de sacrifícios anteriores à instituição mosaica — elementos que, por vezes, entram em tensão com as narrativas de outras tradições. Compreender essas diferentes fontes não é apenas um exercício literário, mas uma chave essencial para ler a Escritura com profundidade. Elas revelam como Israel, ao longo dos séculos, reinterpretou sua experiência com Deus, preservando memórias e reformulando tradições à medida que novas circunstâncias históricas exigiam novas expressões de fé. Nos próximos tópicos, examinaremos detalhadamente essas quatro tradições — Javista, Eloísta, Deuteronomista e Sacerdotal — suas características literárias, teológicas e históricas, bem como a maneira pela qual se entrelaçam na tessitura do Pentateuco que conhecemos hoje.
A Religião e o Sacerdócio em Judá: do Exílio à Restauração
A história de Judá durante o período exílico e pós-exílico permanece, em muitos aspectos, pouco conhecida, tanto por escassez de registros quanto pela complexidade dos processos políticos e religiosos que nela se entrelaçam. Ainda assim, as principais teorias correntes permitem esboçar um quadro razoavelmente coerente da evolução do culto e das instituições sacerdotais nesse período decisivo da história bíblica.
Antes do exílio babilônico, a religião monárquica de Judá era fortemente centrada no Templo de Jerusalém, onde o culto se estruturava em torno de ritos sacrificiais e observâncias litúrgicas. A condução desse culto estava sob a responsabilidade exclusiva dos sacerdotes zadoquitas, assim chamados por afirmarem descender de Zadoque, o sumo sacerdote do rei Davi (cf. 2Sm 8,17; 1Rs 1,39). Esses sacerdotes constituíam a elite religiosa da época, detentora do monopólio do sacrifício e do poder cultual em Jerusalém.
Abaixo deles havia uma ordem inferior de ministros religiosos, conhecidos como levitas. Embora também pertencentes à tribo de Levi, os levitas não possuíam o mesmo status nem os privilégios dos sacerdotes zadoquitas. Estavam encarregados de funções subalternas — como o cuidado com os utensílios sagrados, a música litúrgica e o serviço auxiliar no Templo —, não lhes sendo permitido oferecer sacrifícios. Contudo, Jerusalém não era o único centro de culto em Israel. Diversos santuários regionais existiam, especialmente no Reino do Norte (Israel), e entre eles se destacava o templo de Betel, situado ao norte da capital judaíta. Betel, tradicionalmente associado ao “culto do bezerro de ouro” (cf. 1Rs 12,28-33), funcionava como um centro religioso alternativo ao Templo de Jerusalém e gozava de apoio real até a destruição do Reino do Norte pelos assírios em 721 a.C.. A figura de Aarão, irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote segundo a tradição bíblica, parece ter estado simbolicamente ligada a Betel, servindo como referência para sacerdotes que se identificavam com uma linhagem aaronita. Quando, em 587 a.C., os babilônios conquistaram Jerusalém e destruíram o Templo, a aristocracia zadoquita foi deportada para o exílio na Babilônia. Os levitas, por sua vez, permaneceram no território de Judá, marginalizados e empobrecidos, sem o prestígio nem o poder de seus antigos superiores. Nesse contexto de crise, o templo de Betel ganhou relevância para a vida religiosa dos sobreviventes de Judá. Os sacerdotes não-zadoquitas, influenciados pela tradição aaronita de Betel, começaram a reivindicar o título de “filhos de Aarão”, numa tentativa de legitimar sua autoridade cultual em contraste com os “filhos de Zadoque” exilados. Com o decreto de Ciro (c. 538 a.C.) e o consequente retorno dos exilados, os sacerdotes zadoquitas reassumiram o controle do Templo de Jerusalém, agora reconstruído. O reencontro, porém, não se deu sem tensões: o grupo zadoquita entrou em conflito direto com os sacerdotes aaronitas que haviam permanecido na terra durante o exílio. A disputa envolvia autoridade religiosa, pureza cultual e legitimidade genealógica.
No fim, os zadoquitas prevaleceram, reafirmando sua supremacia no novo sistema sacerdotal pós-exílico. No entanto, em um gesto de conciliação — ou talvez de estratégia política —, adotaram o título de “filhos de Aarão”, seja para integrar os antigos adversários, seja para ampliar sua própria legitimidade dentro de um sacerdócio unificado.
Simultaneamente, surgiu um novo foco de tensão entre os sacerdotes e os levitas, que continuavam a se ressentir de sua posição secundária. Essa rivalidade é refletida em diversas narrativas bíblicas, especialmente na rebelião de Corá (Nm 16), onde a contestação das prerrogativas sacerdotais é apresentada como um ato de rebeldia profana e severamente punido por Deus. Tal episódio, de provável origem sacerdotal, serviu para legitimar a exclusividade do sacerdócio aarônico-zadoquita e reafirmar a ordem hierárquica dentro do culto. Em síntese, o período exílico e pós-exílico marcou um profundo processo de redefinição teológica e institucional dentro do judaísmo. O trauma do exílio babilônico, a perda do Templo e o retorno posterior ao território da Judeia exigiram uma reorganização do culto, da identidade e da memória religiosa. Dessa reestruturação emergiu a tradição sacerdotal (P), que consolidou o ideal de um culto centralizado, puro e regulado, fundamentado na fidelidade de Deus e na observância rigorosa da Lei.
A Tradição Javista (da realeza monárquica) – c. 950 a.C.
A chamada tradição Javista, identificada pela letra J, constitui uma das mais antigas camadas literárias do Pentateuco. Ela recebe esse nome porque, desde o início, o autor utiliza o nome divino “Iahweh” (YHWH) para referir-se a Deus, diferentemente das demais tradições, que preferem títulos mais genéricos, como Elohim.
Provavelmente redigida no contexto da monarquia unificada de Israel, em torno de 950 a.C., a tradição Javista parece ter-se originado nos círculos reais de Jerusalém, durante o reinado de Salomão ou imediatamente após sua morte. Esse período foi marcado por estabilidade política, florescimento cultural e centralização do culto, o que favoreceu a elaboração de uma teologia que articulava a fé em Iahweh com a figura do rei como mediador da aliança e símbolo da unidade nacional.
Embora não haja unanimidade entre os estudiosos quanto aos limites exatos dessa fonte, é possível supor, com base em análises filológicas e narrativas, que o documento Javista se estenda de Gênesis 2,4b até Números 22–24, incluindo episódios como a narrativa da criação, o dilúvio, as histórias patriarcais e a saga do Êxodo, encerrando-se possivelmente com a narrativa da falta de Israel em Baal-Fegor (Nm 25,1-5).
O estilo literário javista é marcado por um vigor narrativo e por um tom vivaz e popular, que privilegia o relato, o diálogo e a psicologia das personagens. Sua linguagem é simples, mas profundamente teológica: Deus é retratado de forma antropomórfica, caminhando com o homem, dialogando com ele e intervindo diretamente na história humana. Esse traço confere à narrativa uma dimensão de proximidade divina e uma forte espiritualidade existencial, na qual Iahweh é o Deus da aliança, que acompanha seu povo com fidelidade e misericórdia.
O Javista apresenta uma visão profundamente histórica e teológica da salvação. A história da humanidade, inaugurada pela criação (Gn 2,4b–3,24), serve de pano de fundo universal para a vocação particular de Abraão, chamado a ser o portador da promessa divina. O fio condutor dessa tradição é justamente o tema da promessa e da sua realização: Iahweh promete bênção, terra e descendência a Abraão, e essa promessa vai sendo concretizada através dos patriarcas, do Êxodo e da conquista da Terra Prometida.
Em sua teologia, o Javista destaca a iniciativa gratuita de Deus e a resposta de fé do ser humano, mostrando um Deus que cria, chama, conduz, corrige e salva. Ele interpreta a história de Israel como a história da fidelidade de Deus diante da infidelidade humana, antecipando uma reflexão teológica que será aprofundada mais tarde pelos profetas e pela tradição deuteronomista. Assim, a tradição Javista representa não apenas um dos pilares do Pentateuco, mas também uma expressão precoce e madura da teologia da aliança, integrando mitos de origem, narrativas patriarcais e tradições tribais sob uma visão unificadora da ação de Iahweh na história. Sua contribuição é fundamental para compreender como o povo de Israel concebeu sua identidade religiosa, histórica e política à luz da revelação divina.
A Tradição Eloísta (dos Profetas) – c. 750 a.C.
Assim como a tradição Javista, a tradição Eloísta, designada pela letra E, é identificada pelo uso característico do nome “Elohim” (אֱלֹהִים) para referir-se a Deus. Esse termo aparece com frequência no texto hebraico da Bíblia Hebraica Stuttgartensia, sobretudo em passagens do Gênesis, Êxodo e Números.
No entanto, nas traduções em língua portuguesa — como a Bíblia de Jerusalém, a Ave-Maria ou a Almeida — o nome “Elohim” é geralmente traduzido simplesmente por “Deus” ou “Senhor”, o que muitas vezes oculta essa distinção essencial para a crítica das fontes.
No texto hebraico de Gênesis 1,1, por exemplo, lê-se: “Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’aretz” — “No princípio, Elohim criou os céus e a terra”. Já em Gênesis 2,4b-25, encontramos o uso do nome Iahweh Elohim, que reflete o estilo javista. Essa alternância terminológica foi uma das primeiras pistas que levaram estudiosos como Jean Astruc (1753) e, posteriormente, Julius Wellhausen (século XIX), a supor que o Pentateuco havia sido composto a partir de fontes distintas, elaboradas em contextos teológicos e históricos diferentes. Essas diferenças na forma de nomear a divindade revelam mais do que simples variação linguística: apontam para tradições teológicas autônomas, desenvolvidas em ambientes e épocas distintas. A tradição Javista (J) e a Eloísta (E), embora possuam material narrativo comum — como as histórias dos patriarcas e do Êxodo — apresentam ênfases teológicas, políticas e literárias próprias. Ambas nasceram da transmissão oral de antigas narrativas, que só mais tarde foram registradas por escrito, provavelmente durante o período monárquico de Davi e Salomão, no caso do Javista, e no Reino do Norte, no caso do Eloísta.
A tradição Javista, como visto, reflete uma teologia monárquica e centrada na figura do rei, símbolo da unidade religiosa e nacional. Em contrapartida, a tradição Eloísta emergiu cerca de dois séculos depois, em torno de 750 a.C., no Reino do Norte (Israel), após a divisão do antigo reino davídico. Esse contexto explica o caráter mais profético e descentralizado da tradição Eloísta, fortemente influenciada pela espiritualidade e pela teologia de Elias e Oséias, grandes profetas do Norte.
Nessa tradição, Deus é transcendente e menos antropomórfico do que na fonte Javista. Elohim revela-se sobretudo por meio de sonhos, anjos, visões e mediações proféticas, destacando a importância da obediência à Palavra divina e do temor de Deus — não como medo servil, mas como reverência, confiança e fidelidade à Aliança. O papel do profeta substitui, em grande medida, o da realeza davídica: o profeta é o mediador da vontade divina, o guardião da justiça e o intérprete da história à luz da fé.
Os limites exatos do documento Eloísta são difíceis de determinar, devido à fusão posterior com o Javista. A crítica literária sugere que o Eloísta começa no ciclo de Abraão (Gn 15 e seguintes), estendendo-se possivelmente até Números 25 ou 32, embora muitos de seus fragmentos tenham sido incorporados ou reescritos pelas tradições Deuteronomista (D) e Sacerdotal (P). O material Eloísta é mais fragmentário e frequentemente incompleto, pois foi subordinado à tradição Javista no processo de redação final do Pentateuco, resultando em uma fusão editorial conhecida como “JE” (Jeovista).
Essa fusão, ocorrida provavelmente em Jerusalém, por volta de 700 a.C., não representou uma simples justaposição de textos, mas uma integração teológica profunda. O Javista e o Eloísta foram reinterpretados à luz um do outro: o Javista forneceu a base narrativa e a visão de Deus como Senhor da história; o Eloísta introduziu uma sensibilidade profética, ética e espiritual mais intensa. Dessa interação nasceram elementos que mais tarde influenciariam tanto a tradição Deuteronomista (D) — com sua ênfase na fidelidade à Aliança e na obediência à Lei — quanto a tradição Sacerdotal (P), marcada pela teologia do culto, da pureza e da presença de Deus no templo.
Assim, pode-se afirmar que a tradição Eloísta representa um momento de amadurecimento teológico dentro da história da fé israelita: ao deslocar o centro da relação com Deus da monarquia para a profecia, ela reforça a dimensão pessoal, ética e comunitária da Aliança.
O Deus de Elohim é aquele que fala, chama, exige justiça e fidelidade, e que revela sua presença não apenas nos rituais do templo, mas na história concreta e nas relações humanas.
A Tradição Deuteronômica (restauração da Lei Mosaica) – 640–609 a.C.
A tradição Deuteronômica, identificada pela letra D, é principalmente preservada no livro do Deuteronômio, embora sua influência se estenda a outros textos do Pentateuco e de livros históricos posteriores. Este documento não foi elaborado de uma só vez; é fruto de um processo de compilação, revisão e adaptação, que reflete tanto tradições do Reino do Norte quanto as necessidades religiosas e políticas do Reino de Judá durante os séculos VII e VI a.C.
Para compreender o alcance e significado do Deuteronômio, é essencial situá-lo em seu contexto histórico. A partir de 628 a.C., com o declínio do império assírio, o rei Josias (640–609 a.C.) promoveu uma profunda reforma política e religiosa em Judá. Livre do jugo assírio e com parte do território do antigo Reino do Norte reconquistado, Josias centralizou o culto em Jerusalém, eliminou altares e santuários locais, e promoveu a leitura pública da Lei diante de todo o povo (2Rs 22–23).
Durante a restauração do Templo, o sacerdote Helcias encontrou o que a Bíblia chama de “Livro da Lei” (2Rs 22,3-10), que provavelmente corresponde a uma primeira edição do Deuteronômio. Essa obra refletia tradições do Norte, trazidas pelos habitantes refugiados após a queda da Samaria (722 a.C.), mas adaptadas ao contexto do Reino de Judá. O núcleo do Deuteronômio, portanto, preserva tanto elementos Eloístas e proféticos quanto a tradição jurídica e moral destinada a orientar a vida social e religiosa do povo. Uma característica marcante da tradição Deuteronômica é a autoridade de Moisés. Os discursos que se estendem de Dt 1–11 apresentam Moisés como porta-voz direto de Deus, legitimando a Lei e conferindo-lhe fundamento divino e histórico. Nesse sentido, o Deuteronômio aproxima-se da tradição Eloísta do Reino do Norte, onde a revelação fundamental ocorre no Horeb, e não no Sinai, como ocorre na tradição Javista. O Decálogo de Dt 5,6-21, ligado ao Horeb, enfatiza a obediência ética e o temor do Senhor, enquanto o código deuteronômico (Dt 12–26) regula a centralização do culto, a justiça social e a fidelidade à Aliança.
Durante o reinado de Ezequias (715–687 a.C.), as tradições Javista e Eloísta já haviam sido compiladas e revisadas em Jerusalém, juntamente com coleções literárias como Provérbios (Pv 25,1), Salmos e ditos proféticos de Oséias. Essas compilações forneceram o pano de fundo para a reforma de Josias, que implementou medidas de centralização religiosa, destruição de santuários locais e incentivo à observância da Lei (Dt 12,2-3; 2Rs 23,4-14).
O Deuteronômio não se consolidou em sua forma final de imediato. Sua influência cresceu ao longo do tempo, passando por várias edições e revisões, que foram determinantes para a formação do Pentateuco tal como o conhecemos. As descobertas de manuscritos em Qumran demonstram que este livro era amplamente lido e recopiado, tornando-se um texto de referência quase tão central quanto o livro de Isaías (Briend, J.).
Em síntese, a tradição Deuteronômica representa uma intervenção teológica e social de grande alcance: ela consolidou a centralidade de Jerusalém, reforçou a Lei como instrumento de fé e coesão nacional, e interpretou a história de Israel à luz da Aliança com Deus, ligando passado, presente e futuro em uma narrativa de fidelidade, justiça e renovação espiritual.
A Tradição Sacerdotal (P) – Exílio Babilônico, 587–538 a.C.
A tradição Sacerdotal, designada pela letra P (do alemão Priesterkodex, “código sacerdotal”), surgiu durante o exílio babilônico, entre 587 e 538 a.C., e continuou a se desenvolver no período pós-exílico. Seu objetivo central era preservar a fé e a identidade de Israel, mantendo viva a esperança do povo afastado da sua terra e do Templo de Jerusalém. Essa tradição procurou nas memórias e práticas do passado respostas à pergunta: “Em que apoiar-se para continuar vivendo no meio das nações?”
Ênfase na comunidade e genealogias
A tradição P valoriza o pertencimento a um povo e à comunidade de sangue, enfatizando a importância das genealogias como instrumento de preservação da identidade israelita durante o exílio. Através delas, os sacerdotes mantêm a continuidade histórica e religiosa do povo, assegurando que as promessas de Deus a Israel possam ser reconhecidas e aguardadas, mesmo fora da terra prometida. Com a impossibilidade de frequentar o templo, surgem práticas que mantêm a vida religiosa viável: a observância do sábado como tempo consagrado a Deus e a circuncisão como sinal de pertença à comunidade de Israel. Assim, uma comunidade dirigida por sacerdotes poderia manter a fé viva, substituindo o templo físico pela palavra de Deus como centro religioso.
Centralidade do sacerdote e novos fundamentos teológicos
Na tradição sacerdotal, a figura central não é mais o rei (como em J) nem o profeta (como em E), mas o sacerdote, responsável por orientar a comunidade. O fundamento da vida religiosa deixa de ser a benção ou o temor de Deus, assumindo fé e esperança como eixos centrais: confiança na fidelidade de Deus e expectativa de um futuro de restauração.
Contribuições literárias da fonte P - A fonte P é responsável por grandes trechos do Pentateuco, destacando-se por:
-Gênesis: primeira história da criação (Gn 1,1–2,4a), genealogias de Adão (Gn 5), parte do relato do Dilúvio (Gn 6–9), Tabela das Nações (Gn 10) e genealogia de Sem. P também acrescenta a aliança de Deus com Abraão (Gn 17) e algumas histórias sobre Abraão, Isaac e Jacó.
-Êxodo: capítulos 25–31 e 35–40, que detalham instruções para o Tabernáculo e sua construção. P enfatiza a ordem e obediência de Israel, além da função sacerdotal no culto. Partes do Êxodo (1–24; 32–34) são javistas, com P acrescentando comentários e regulações rituais.
-Levítico: capítulos 1–16 descrevem a distinção entre o povo profano e os sacerdotes santos, normas de purificação e sacrifício. Capítulos 17–26 formam o Código de Santidade, insistindo na santidade de Israel.
-Números: capítulos 1–10:28, 15–20, 25–31 e 33–36, incluindo censos, organização das tribos, posição dos levitas e sacerdotes, e regulamentos sobre a posse da Terra Prometida.
-Deuteronômio: contribuições esparsas em Dt 32,48–52 e 54,1.
Temas centrais e teologia dessa tradição
A tradição P desenvolve uma teologia ritual e legal:
-A importância do sacerdócio como mediador da aliança de Deus com Israel.
-A pureza ritual como condição de participação na vida comunitária.
-O culto centralizado e regulado, preparando o povo para viver em torno do templo e da lei, mesmo no exílio.
-A ordem divina como fundamento da história e da vida social.
-Além disso, P oferece uma visão de Moisés como legislador, mais do que profeta libertador, destacando sua função de transmitir a Lei e organizar a vida religiosa da comunidade.
Contexto histórico e editorial
No período pós-exílico, sob a província persa de Yehud, os sacerdotes lideraram a reconstrução da identidade israelita e do templo, centralizando o culto e consolidando leis comunitárias para assegurar autonomia religiosa e política. A tradição P reflete a necessidade de legitimar privilégios sacerdotais, unificar grupos locais e preservar a memória histórica e legal do povo. Estudos contemporâneos, como os de F. M. Cross, Hans Heinrich Schmid, J. Van Seters e R. Rendtorff, questionaram e reformularam a Hipótese Documentária, mas o consenso acadêmico ainda reconhece a fonte Sacerdotal como um elemento essencial para compreender a organização, a liturgia e a teologia do Pentateuco.
Síntese
A tradição sacerdotal representa, portanto, a resposta da fé israelita ao exílio e à perda do templo, reorganizando a vida comunitária em torno de normas, rituais e genealogias, preservando a identidade de Israel e preparando o povo para a restauração pós-exílica. P demonstra como a fé, a lei e a esperança substituíram o culto físico do templo, reafirmando a presença contínua de Deus na história e na vida comunitária do seu povo.

A Questão da Autoria Mosaica e Suas Implicações Teológicas
A negação da autoria mosaica do Pentateuco constitui um dos temas mais sensíveis e debatidos nos estudos bíblicos. Essa posição crítica, frequentemente associada à Hipótese Documentária, levanta inevitavelmente duas questões de grande impacto teológico e hermenêutico:
a) Em primeiro lugar, questiona-se a inspiração divina das Escrituras. Se os livros mosaicos são vistos como o resultado de construções tardias de grupos sacerdotais ou elites religiosas, e não como palavras transmitidas por Moisés sob a orientação direta de Deus, sua autoridade espiritual e revelacional se torna relativizada. Assim, o texto bíblico deixa de ser considerado Palavra de Deus para ser compreendido como um produto histórico e ideológico.
b) Em segundo lugar, a veracidade histórica das narrativas e da legislação mosaica também é colocada em xeque. Essa leitura crítica tende a lançar uma sombra de suspeita sobre os relatos, interpretando-os como mitos, parábolas políticas ou invenções devocionais elaboradas séculos após os eventos. A consequência natural é a redução da Bíblia a uma literatura religiosa de valor simbólico, mas sem consistência factual ou histórica.
Entretanto, uma análise mais abrangente revela fortes evidências internas e externas que sustentam a autoria mosaica tradicional e a inspiração divina das Escrituras. Entre tais evidências, destacam-se:
A erudição e a autodeclaração mosaica
A própria Bíblia apresenta Moisés como autor consciente de sua escrita e atuante sob direção divina. O livro do Êxodo (17,14; 34,27) e o Deuteronômio (31,9.24) relatam explicitamente que ele escreveu as palavras do Senhor. O Novo Testamento confirma esse testemunho: “Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios” (At 7,22), sendo reconhecido como um homem erudito e dotado de autoridade intelectual para tal empreendimento.
Unidade literária e estilística do Pentateuco
Apesar das diferentes temáticas e contextos narrativos, há no Pentateuco uma notável unidade de estilo, estrutura e conteúdo. O vocabulário, o ritmo narrativo e as fórmulas de expressão mantêm coerência, sugerindo a atuação de um redator principal — Moisés — mesmo que este tenha recorrido a fontes e tradições orais ou escritas anteriores. Essa continuidade interna diferencia o Pentateuco dos demais livros do Antigo Testamento.
O testemunho de Cristo e dos apóstolos
Nos Evangelhos e nas epístolas, o próprio Cristo e os escritores do Novo Testamento atribuem os cinco livros da Lei a Moisés, reafirmando sua autoridade profética e literária. Jesus declara: “Se crêsseis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito” (Jo 5,46–47; cf. Jo 1,17; 7,19). Paulo também cita “a justiça que vem da Lei escrita por Moisés” (Rm 10,5.19), evidenciando a aceitação da autoria mosaica no testemunho apostólico e na fé da Igreja primitiva.
A confirmação arqueológica e histórica
Descobertas arqueológicas de relevância, como as inscrições cuneiformes, os códigos de leis sumério-acadianos (como o Código de Hamurabi, ca. 1750 a.C.) e os documentos literários egípcios da XVIII dinastia, demonstram que a atividade literária e jurídica era amplamente desenvolvida antes de Moisés, especialmente no contexto do Antigo Oriente Próximo. Assim, é perfeitamente plausível que Moisés, educado na corte do Egito, tivesse capacidade técnica e intelectual para compor obras dessa natureza.
A tradição judaica e a prática de compilação
A tradição judaica — desde o Talmude até os escritos dos rabinos medievais — reconhece de modo unânime Moisés como o autor do Pentateuco. Admitir que ele tenha utilizado documentos antigos ou fontes anteriores não contradiz a inspiração divina, mas, ao contrário, confirma o modo como Deus atua na história: inspirando autores humanos a compor textos sagrados a partir da realidade de seu tempo. O próprio evangelista Lucas (1,1–3) demonstra ter utilizado fontes e testemunhos prévios para compor seu Evangelho, sem que isso comprometa sua inspiração.
Síntese
Negar a autoria mosaica implica não apenas uma questão de crítica textual, mas uma redefinição do conceito de revelação. A tradição mosaica preserva o caráter sagrado da Lei como palavra revelada e inspirada por Deus, transmitida por um profeta dotado de sabedoria, cultura e fé. Rejeitá-la em favor de hipóteses puramente documentárias pode conduzir à diluição teológica da Escritura, reduzindo-a a uma mera construção humana. A defesa da autoria mosaica, portanto, não é um anacronismo, mas uma posição teológica coerente com a unidade interna da Bíblia, o testemunho de Cristo e da tradição apostólica, e com a consistência histórica e literária dos próprios textos sagrados.
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS:
A Sagrada Escritura não é um documento científico nem tampouco um livro de mitologia. Trata-se, antes, de um testemunho histórico e teológico, composto por narrativas de diferentes estilos literários, conforme o autor, o contexto e a intenção da mensagem.
Frequentemente, o termo mito é associado, de modo equivocado, à falsidade ou à invenção. Parte-se do pressuposto de que apenas a narrativa histórica é verdadeira, e que toda forma simbólica seria sinônimo de engano. Tal visão, contudo, é reducionista e anacrônica, pois ignora a natureza da linguagem religiosa e poética — modos legítimos de expressão da verdade.
Interpretar a Bíblia apenas de forma literal e histórica é negar, por exemplo, o valor de verdade das parábolas de Cristo, que, embora não sejam relatos factuais, contêm profundas verdades teológicas e morais.O mito, a parábola, a poesia e a narrativa figurada não buscam relatar acontecimentos históricos, mas comunicar uma verdade existencial ou espiritual. São linguagens simbólicas, usadas para expressar realidades transcendentais que não podem ser apreendidas pelos sentidos. Trata-se, portanto, de uma “verdade poética”, muitas vezes mais profunda do que a simples descrição de fatos. A função do mito é oferecer uma explicação inteligível para realidades não sensíveis, como o mistério da existência, o problema do mal, a origem da morte ou a vida após a morte — temas que escapam à linguagem científica. A Bíblia, em vez de recorrer à linguagem filosófica abstrata, típica da cultura grega ocidental, utiliza a linguagem mítica e simbólica do Oriente antigo, rica em imagens e experiências concretas, pois esta é mais experiencial que conceitual.

Exemplos dessa linguagem são inúmeros:
-“Vaidade das vaidades, tudo é vaidade...” (Ecl 1,2) — fruto de uma experiência existencial, não de especulação.
-O relato do rapto de Elias ao céu (2Rs 2) tem caráter mítico: Elias é uma figura histórica, mas o modo de narrar sua ascensão visa expressar a verdade de que ele não conheceu a morte e vive com Deus, assim como Jesus foi exaltado em glória.
-As tentações de Jesus (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13) expressam, por meio de linguagem simbólica, o conflito real entre o Filho de Deus e as forças do mal.
As metáforas bíblicas — Deus como Juiz, Pastor, Pai, Rei, ou Senhor dos Exércitos — não pretendem descrever literalmente a natureza divina, mas traduzir o inefável em termos compreensíveis à condição humana. Como ensina São Tomás de Aquino, “a verdade é maior que a inteligência humana”; logo, nossa razão jamais poderá abarcar plenamente o mistério divino.
O problema do fundamentalismo
O fundamentalismo bíblico rejeita a possibilidade de erros acidentais na Escritura, sustentando que qualquer reconhecimento de imprecisões comprometeria a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Tal postura, entretanto, aproxima-se mais do ateísmo crítico que do verdadeiro espírito da fé, pois nega a natureza teândrica (divino-humana) da Revelação. A Bíblia é Palavra de Deus em linguagem humana, inspirada, sim, pelo Espírito Santo, mas redigida por autores reais, com cultura, limites e recursos próprios.
O termo “erro”, no contexto exegético e teológico, é ambíguo. É mais adequado falar em “verdade bíblica”.
A verdade, segundo a filosofia clássica, é a correspondência afirmativa entre o que é pensado e o que é constatável na realidade. Daí a máxima: “A verdade não está no sujeito, mas no objeto.” Assim, a verdade não depende de opiniões, crenças ou gostos pessoais.A não verdade acidental é o erro, que pode decorrer de incompreensão, informação incompleta ou distração. Já a não verdade intencional é a mentira, que visa enganar deliberadamente. Enquanto a mentira se opõe à verdade moral, o erro se opõe apenas à exatidão.
É, portanto, fundamental distinguir erro de mentira. A Bíblia pode conter erros acidentais de forma ou transmissão, mas jamais mente. Sua verdade é teológica e salvífica — não científica ou cronológica.
Portanto, quando falamos de verdade e erro na Bíblia, devemos reconhecer que o fazemos a partir de um conceito ocidental de verdade, oriundo da filosofia grega (alétheia), diferente da concepção oriental simbólica em que o texto foi escrito.
A Escritura não se propõe a explicar o “como” dos fatos, mas o “porquê” e o “para quê” — o sentido último da existência e da relação entre Deus e o ser humano.
Portanto, a Bíblia é uma revelação divina expressa em linguagem humana, e compreender seus gêneros literários, símbolos e contextos culturais é fundamental para não confundir o mito revelador de sentido com a mentira que nega a verdade.
CONCLUSÃO
Atenção! Ao refletirmos sobre a origem, a composição e a mensagem da Sagrada Escritura, é indispensável compreender que o conceito de verdade no mundo bíblico é profundamente distinto daquele concebido pela cultura moderna ocidental. No horizonte semito-oriental, de onde emergiram os textos bíblicos, a verdade não se define pela correspondência exata entre um enunciado e um fato (como o fariam Aristóteles ou os filósofos gregos), mas pela fidelidade, estabilidade e confiabilidade de uma realidade ou de uma pessoa.
A palavra hebraica ’emeth, traduzida por “verdade”, deriva da mesma raiz de “amém” — expressão que significa “firmeza”, “segurança”, “confiança”. Assim, dizer que algo é “verdadeiro” na linguagem bíblica é afirmar que é digno de fé, que permanece, que cumpre o que promete.
Por isso, o oposto da verdade, para a mentalidade bíblica, não é o erro, mas a mentira, a infidelidade, a hipocrisia e a idolatria, todas elas formas de traição da aliança com Deus. Esse contraste é decisivo: enquanto o Ocidente filosófico e científico construiu um conceito de verdade intelectual, conceitual e lógico, a Bíblia nos apresenta uma verdade existencial, histórica e relacional. A verdade bíblica não se demonstra — revela-se; não se deduz — acontece; não se reduz a proposições abstratas — se manifesta em atos de Deus na história.
Portanto, ao ler as Escrituras, devemos ter o cuidado de não projetar sobre elas o nosso conceito moderno e ocidental de verdade. Fazer isso seria interpretá-las a partir de um horizonte que não lhes pertence, como se os autores inspirados fossem gregos sistematizando ideias, e não hebreus narrando a ação salvífica de Deus na vida concreta do povo. A Bíblia não pretende ser um manual de história, ciência ou cronologia — mas o testemunho inspirado da experiência de fé de Israel e, finalmente, da revelação plena de Deus em Cristo.
Dessa forma, a verdade bíblica se situa no plano da mensagem, e não no das descrições literais. O valor teológico das Escrituras não depende da exatidão dos dados geográficos ou históricos, mas da fidelidade de seu testemunho à ação divina e ao sentido salvífico da história. Quando os textos bíblicos nos falam da criação, do dilúvio, do êxodo ou dos milagres, o fazem para revelar o sentido teológico e espiritual desses acontecimentos, não para oferecer um relato científico dos fatos. Essa distinção é decisiva para compreender o autêntico significado da inerrância e da infalibilidade das Escrituras — conceitos muitas vezes mal interpretados ou aplicados de forma fundamentalista.
A Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, reconhece na Bíblia a Palavra de Deus em linguagem humana e, portanto, distingue a intenção teológica do texto de sua forma literária ou cultural. A Constituição Dogmática Dei Verbum, no nº 11, esclarece com admirável equilíbrio:
“Deve-se confessar que os livros da Escritura ensinam firmemente, com fidelidade e sem erro, a verdade que Deus quis manifestar nas Sagradas Letras para nossa salvação.” (Nostrae salutis causa).
Esta afirmação, breve e densa, é a chave da hermenêutica católica: A Bíblia é sem erro, mas no que diz respeito à verdade salvífica que Deus quis comunicar. O objeto da inerrância é a mensagem de fé, e não a exatidão científica ou cronológica dos relatos. A finalidade das Escrituras é a nossa salvação, não a satisfação de curiosidades históricas ou cosmológicas. Assim, a infalibilidade bíblica se compreende dentro do seu escopo teológico: a Palavra de Deus é verdadeira porque conduz o homem à verdade plena, que é Cristo, “o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, é orientada para Ele e encontra n’Ele o seu cumprimento. Essa perspectiva não diminui a autoridade da Bíblia — pelo contrário, a engrandece. Mostra que sua verdade é mais profunda que a mera precisão dos fatos, porque toca a essência do ser humano e de seu destino eterno. Deus fala através de palavras humanas, mas seu propósito não é informar: é transformar.
Assim, quando a Igreja afirma que a Sagrada Escritura está “livre de qualquer erro”, entende-se que essa inerrância é viva, dinâmica e universal: válida para todos os tempos, porque o projeto salvífico de Deus permanece o mesmo. A verdade bíblica é, portanto, eterna em seu conteúdo e encarnada em sua forma, unindo o divino e o humano, o eterno e o temporal, o absoluto e o histórico.
Em conclusão, a Bíblia é verdadeira não por corresponder aos critérios de verificação empírica, mas porque revela o Deus que é fiel, permanece e cumpre suas promessas. Sua verdade é relacional e redentora: convida o ser humano a confiar, crer e responder ao amor de Deus. A infalibilidade das Escrituras, vista à luz da fé católica, não é uma questão de precisão técnica, mas de fidelidade divina. Nelas encontramos não apenas palavras sobre Deus, mas a Palavra de Deus que salva, liberta e ilumina todas as épocas.
Por *Francisco José Barros
Araújo – Bacharel em Teologia pela Faculdade Católica do RN, conforme diploma
Nº 31.636 do Processo Nº 003/17
-CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Dei Verbum: sobre a Revelação Divina. In: DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2014.
-BENTO XVI (Joseph Ratzinger). Introdução ao Cristianismo. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005.
-FITZMYER, Joseph A. A interpretação da Bíblia na Igreja. São Paulo: Paulinas, 1994.
-BROWN, Raymond E. Introdução à Sagrada Escritura. São Paulo: Paulinas, 2005.
-ALONSO SCHÖKEL, Luis. A Palavra Inspirada: A Bíblia à luz da ciência da linguagem. São Paulo: Paulinas, 1994.
-VON RAD, Gerhard. Teologia do Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 2010.
-LÓPEZ, José Ramón. La inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Madrid: BAC (Biblioteca de Autores Cristianos), 2015.
-GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio. La Palabra de Dios en lenguaje humano. Santander: Sal Terrae, 2002.
-PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA. A interpretação da Bíblia na Igreja. Vaticano, 1993. (Disponível também em português pela Paulinas).
-LEON-DUFOUR, Xavier. Vocabulário de Teologia Bíblica. São Paulo: Paulus, 2010.
-SPICQ, Ceslas. Revelación y Escritura. Salamanca: Sígueme, 1978.